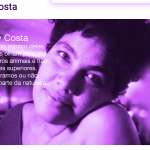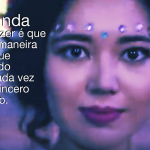No corpo do Mestre Mário
Esta é uma homenagem orgânica: estás no corpo de alguém que poderia fazer o que estás a fazer e melhor, uma voz múltipla — nomeá-la-iam personagem. Uma figura dirty realist, excessiva, alimentando-se de palavras como outros de trigo, preso à invenção com obsessão constante, em autovigilância de vocabulário próprio — o mar da língua um deus íntimo.
Lembro-me bem da beiça caída, do toque sonolento pós almoço — o frango grelhado que carbonizou no fogão ficou famoso. Vivi no mesmo poiso, à Romão Ramalho, casa vazia, colchões no chão, livros espalhados pelo soalho fora. Um eremita das letras, a dialéctica do Hegel à mão quando se tratava de pensar o estético, o arranjo de cena realista, a fluência do jogo, o trabalho de detalhe, o orgânico parido do mecânico. Representar quer dizer repetir ao ponto de criar vida, parece estranho mas não é, afinal o treino vive na semente em devir outra forma. E inteligência. Esse mergulho sem rede mental no orgânico, all’improviso e imediato, fácil, é próprio de cegos na crença emocional, mergulhados como estão no desnorte e ansiedade comum — disso é feito o dia medíocre.
A cada momento, o comentário subtil do que fazes, por vezes a mão contradiz a fala, porque sabes que estás a construir a figura — voz é a caracterização atinada de uma figura maior que a ideia de personagem, porta-voz, múltiplas vozes numa voz, levas contigo esse vários que integra o real complexo, o rei, o autor, o homem lixo, o pensador, o humorado cínico, o xadrez da cena que organizas a partir da cegueira, homem só ouvido a caminho da surdez — isso significa escoras auditivas, alicerces, estrutura frásica, ritmos, olhares interiores, vocábulos eleitos, silêncios que não são pausas, movimentos dos corpos no espaço, dança quando querem contracena social explícita, vício de didactólogo descolado do ser do corpo mas sempre com o corpo na boca, sempre por cima a falar da ignorância alheia esquecendo a própria, arrogância clichê — quando é que se perceberá isto, que mais vale Clairon que Dusmésnil, como vem no Paradoxo de Diderot?
Nesta peça, Jogo do fim, de Samuel Beckett — e talvez por isso, a cada um a sua jogada, as falas atiradas em confronto, luta de cérebros — as cenas são micro-sequências, a estrutura está malhada de uma articulação de mínimos, o parágrafo é já longo alcance. Se teces qualquer coisa, pões os tempos de vazio entre, como brancas, saltos e outra coisa a avançar, subterraneamente, invisível a estrutura vive para o edifício que avança. Em articulação associativa. Quem manda nisto? A inteligência referencial e os níveis de ler, a inventiva becketiana de uma escrita radicalmente ateia, obcecadamente rigorosa, musical e montagem, feita de partes como um objecto arqueológico, de partes sobre partes, é necessário escavar este material se o queres revelar. Não fazes teia nenhuma para meter o leitor na rede, mosca debatendo-se nos fios narrativos, respeita-lo como ser livre. E abominas os climaxes, antes gozas na paródia disso e afirmas que deus está mais que morto e enterrado. O sarcasmo é a via mais óbvia de sacudir a estupidez cinzenta do caminho, uma média ambiente condiciona tudo. E atingir silêncios de subtileza profunda, tudo dizer sem nada dizer: como diz alguém, os grandes autores falam por longos silêncios — referência ao modo de estar entre Joyce e Beckett (Harold Bloom citando um biógrafo).

de Tankred Dorst, encenação
de Fernando Mora Ramos fotografia
de Paulo Nuno Silva
O velho está no meio da plateia e dirigir Tchecov, a plateia esventrada, vêem-se os túneis acústicos — estamos no Teatro garcia de Resende, no Cendrev que inventámos, nós Teatro da Rainha, com ele, que aceitou enterrar o CCE e nos pedira para regressar, para refundar a estrutura. Está sobre um estrado ali plantado, com uma ligação à entrada da sala, uma passadeira de madeira, de aparite. E senta-se. Nunca o encenador esteve tão isolado, uma ilha. Uma península. Com a sala em obras o chão está a três metros das vigas que sustentam a sala, em reconstrução, o chão de terra. Num teatro à italiana estes quesitos estruturantes fazem parte da arquitectura do som, os túneis sob a sala e a cisterna ou o poço, num ponto do sub-palco. Isso é que fabrica a magia do ciciado na cena se ouça da última fila — ao fundo, a 16 metros da boca, o cu encostado às paredes dos camarins — os meses que naquele teatro dormi, na primeira ordem de acmarins, conheço o Garcia do pulsar nocturno da madeira a estalar com o arrefecimento e do morcego de serviço, instalado entre a régia e as bambolinas, também gostaria, tendo asas, gosto de dizer: bambolina. Os túneis, a madeira, a configuração do vazio, o que o cerca, os panos, a água, são materiais e formas que são bons condutores de som.
O velho Barradas está no meio da sala, rei do espaço, mais ninguém — no camarote régio de outrora, ninguém, a democracia é rés-do-chão, as hierarquias são outras — um foco de luz incide para que possa chegar ao texto. As Três irmãs nunca mais partirão para Moscovo, enredadas naquela casa de memórias definitivas, a energia propulsora de outro futuro não vive naquelas pernas.
O Barradas adora a peça mas detesta pequeno burgueses, mesmo autênticos, dos que amam peluches e prendinhas de aniversário, vivem para as festinhas e datas afins, velinhas, muita empatia glamourosa mole com data marcada. Eu também. Isso nada tem a ver com o contexto, mas os humores soltos, livres, são como galgos atrás de caça inexistente, partem em fala feroz à desfilada. Vejo-me no corpo dele, agora que faço Hamm em Jogo do fim. Ele nunca faria o Beckett, a sua ortodoxia francófila m-l não lho permite. E não se trai a si mesmo. É de peça inteira, mesmo ultra maleável na táctica relacional, mesmo no período gramsciano, mesmo quando apoiou o outro Mário antes da ordem vir de cima. Um tacticista, como muitos da geração, para quem os bigodes do pai de todos eram porcelana.
Descubro que a minha ligação ao Mestre é muito forte, uma ligação que agora incorporo, à letra, fio umbilical, palavra umbilicada. É extraordinário. Não dá para acreditar. Chama-se a isto metempsicose corporal. E não há tinto de permeio. Maior homenagem que parir em cena o próprio pai — dizer padrinho, a convenção, abomino estatuto e vocábulo, deixo isso para mafiosos — de cena, em cena?
Os hierarcas egocentrados têm o problema de dormir na hora da sesta, principlamente naquele Alentejo em que plantávamos teatro de estaca, à espera que o resto da revolução cumprisse o tal desenvolvimento e a mudança de mentalidades — usava-se muito, esta. Lá fora, anos antes, lá para o PREC, as terras ocupadas teriam sido outro país se o tempo tivesse seguido outro caminho e se naquele dia a ponte em Arraiolos tivesse caído sobre os panhards de Estremoz — estás a ler isto Carmosino, por onde andas tu, tão rápido na fala-gatilho?
Um país limpo, esse, teria sido, e foi enquanto foi e foi real, o contrário deste em que todos cirandam em torno de corporativismos vários como pernas de um polvo sistémico em autodevoração ógrica (de Ogre).
Este Jogo do fim é uma homenagem em corpo presente ao Mário Barradas. Meu mestre, o diabo que me trouxe para a má vida em 71/72, quando aprendi o teatro em Noite de guerra no Museu do Prado, lá para moçambiques, Lourenço Marques. Não quereria outra.
Fernando Mora Ramos