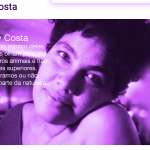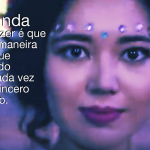Entrevista a Mário Barradas, por Tomás Cabral
“O teatro é a mais ciumenta das artes”.
Mário Barradas
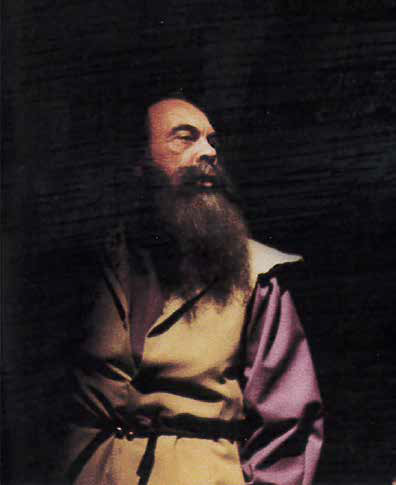
Um pouco por acaso, foi na esplanada do Teatro Nacional D. Maria II, com vista para o Rossio, em pleno centro da capital, que a Cena’s conversou com Mário Barradas, o actor e encenador que criou o Centro Dramático de Évora, exemplo mais acabado do que poderia ter sido a descentralização teatral em Portugal. O jovem estudante de direito nascido nos Açores, que na Lisboa de antigamente “declamava poemas com gestos largos e olhos esbugalhados”, segundo consta num relatório da PIDE, mantém aos 78 anos a intransigência que pautou a sua longa carreira, sempre fiel aos grandes textos teatrais e aos seus autores. Rebelde na época do obscurantismo fascista, vocifera agora contra as elites do nosso tempo que, a seu ver, renunciaram a um teatro de qualidade para todos.
– Quando nos falam do Mário Barradas, referem o seu percurso sinuoso, cheio de voltas e revoltas… Mas surge também a imagem de uma pessoa que sabe o que quer e que sabe como quer fazê-lo. É um homem de ideias fixas?
– Não sou de ideias fixas, sou de ideias firmes. Aquilo que para mim é verdade é que o teatro é um serviço público, e a prova disso mesmo está no que se pratica no estrangeiro. O teatro é considerado um serviço público em todos os países da Europa, excepto em Portugal. “Mas há o Teatro Nacional”, dizem-nos… em Lisboa e no Porto! E o resto?
– O seu nome estará sempre ligado ao projecto da descentralização do teatro em Portugal. Que descentralização é essa que defendeu e defende com tanta veemência?
– O povo português não tem acesso ao espectáculo teatral de qualidade. Está completamente marginalizado. Por isso defendo uma descentralização com base no modelo francês, que pude ver funcionar em Estrasburgo, quando lá estudei no final dos anos 60. Em França, aquele movimento começou em 1946, numa altura em que havia mais de cinquenta companhias de teatro em Paris.
– Segundo percebi, esse modelo baseia-se na criação de “teatros nacionais” fora da capital…
– Exactamente. O Estado Francês criou, até hoje, vinte e nove centros dramáticos nacionais, que são, por lei, financiados pelo Estado e que têm obrigações, entre as quais a de desenvolver um repertório.

– Porque é que considera que esse modelo seria o mais adequado para Portugal?
– Porque espalha o teatro pela praça toda, e em Portugal só havia companhias em Lisboa e no Porto.
– Então, essa descentralização far-se-ia contra Lisboa, de certa forma?
– Não é contra, é ao lado. Quando nós fomos para Évora e criámos o que se tornaria o Centro Dramático de Évora (CENDREV), toda a gente dizia que aquilo não ia dar, que as coisas se passavam todas aqui em Lisboa, que ninguém iria comigo… Mas eu arranjei uma equipa, com alguns dos melhores técnicos que havia na altura em Portugal, e alguns actores que já tinham um certo renome, como a Clara Joana, o Joaquim Rosa, ou o João Lagarto.
– Mas Lisboa representava alguma coisa que era preciso combater? Já usou noutras ocasiões a expressão “feira teatral” para se referir à cena teatral lisboeta. Que feira é essa?
– É a mistura de tudo. O teatro português continua a ser uma feira teatral e hoje já nem se fala de teatro, mas de performances. O que está na moda são as artes performativas.
– E isso não é teatro?
– Não. E é por isso que deviam ser consideradas independentemente, e apoiadas à parte.
– Com o CENDREV, teve a oportunidade de pôr em prática as ideias que trouxe de Estrasburgo. Que balanço faz hoje dessa experiência?
– Foi extremamente positiva, porque toda a gente passou a falar do teatro naquela região do país. Mais, Évora não se ficou por Évora. Graças aos seus pontos de queda, estabeleceu uma rede que ia de Braga até Faro. Ali tiveram origem a maior parte das companhias da descentralização que se formaram depois, porque foram criadas por pessoas que passaram pela escola.
– Considera que o fim da escola, em 2001, veio comprometer os objectivos do projecto?

– É evidente que sim. Mas, apesar de tudo, o CENDREV garantiu algumas coisas. Uma delas foi a revivescência do teatro tradicional e popular alentejano, com os bonecos de Santo Aleixo, que de outra forma ter-se-ia perdido. Continua a haver uma equipa de criação teatral e a revista Adágio, que foi bastante boa mas já não se publica há mais de um ano por falta de dinheiro. O mais grave foi quando, em 1987, a Secretaria de Estado da Cultura anulou o despacho de 1975 que determinava a criação do Centro Dramático de Évora como uma entidade do Estado. Era a primeira experiência da descentralização, mas o seu estatuto nunca chegou a ser publicado. Tudo isso fazia parte do projecto, tal como a escola de formação, que era essencial…
– Acabaram com ela, por decreto, pura e simplesmente?
– Deixaram de conceder subsídio, e sem esse financiamento a escola não podia funcionar. Foi este Partido Socialista. Disseram que já não havia mais dinheiro do fundo social europeu. Mas havia para gastar noutras coisas. Portugal vai numa rampa inclinada… para baixo!
– Porquê Évora para constituir o Centro?
– Por causa do Teatro Garcia de Resende. Nós fomos a quatro cidades: Coimbra, Leiria, Viseu e Évora. Em Coimbra, o Teatro Gil Vicente estava entregue à Universidade, em Leiria, o Teatro José Lúcio da Silva estava completamente degradado naquela altura e em Viseu, o actual Teatro Viriato era um armazém de batatas. Depois, cheguei a Évora e, na Câmara Municipal, perguntaram-me: “você quer o Teatro?”, “Eu quero”, respondi. “Então aqui tem a chave. O Teatro é seu”. Mudámo-nos para lá no dia 2 de janeiro de 1975, estreámos a primeira peça a 28 de janeiro. De manhã andávamos nas limpezas, à tarde ensaiávamos e à noite tínhamos reuniões com as forças culturais da cidade e gente dos arredores, para nos enraizarmos.
– Se o objectivo era levar o teatro a outros públicos, a novos públicos, porquê privilegiar a descentralização em vez da itinerância?

– Nós também fizemos muita itinerância, mas ela tem o defeito de não se fixar num local. A descentralização, para além de levar o teatro a novos públicos, promove o desenvolvimento cultural daquelas regiões. O CENDREV, por exemplo, exercia uma influência permanente sobre toda a região do distrito de Évora, que passou a ter acesso ao grande teatro. Montámos Shakespeare, Brecht, Tankred Dorst e catorze peças do Gil Vicente! Que é uma coisa que não se faz, e que passava lindamente para o público. Numa cidade com 8.000 habitantes, 54.000 contando com as freguesias rurais, o Auto da Lusitânia, deu 42 representações seguidas no Teatro Garcia de Resende, sempre cheio. Era inimaginável! E o público divertidíssimo, porque Gil Vicente compreende-se perfeitamente, e não alterávamos uma vírgula.
– É sempre muito respeitoso do texto?
– O texto é que comanda. Não há nenhuma revolução teatral que não tenha sido comandada pelo texto. O grande criador no teatro é o autor dramático. A meu ver, os encenadores e os actores não são mais que intérpretes privilegiados.
– O Mário Barradas nasceu nos Açores, passou por Timor, Moçambique, estudou em Estrasburgo, montou o grande projecto da sua vida em Évora… Pensa que quanto mais longe se está do centro, mais livre se é? Ou esta questão da descentralização é uma coincidência na sua vida?
– De modo nenhum. Quando se está longe do centro, é-se de facto mais livre, porque se está mais à vontade para fazer aquilo que se quer. Imagine, se eu lançasse esse projecto em Lisboa tinha todos os cães a morder-me as canelas. Assim não, estava para lá esquecido. Diziam-me que os jornais não falavam de nós… Eu quero lá saber dos jornais, pá! (risos) E às vezes até falavam, quando não podia deixar de ser. Para mim, Évora foi de facto uma experiência muito boa e muito séria. Durou mais de vinte anos, produziu actores e encenadores novos…Formámos sempre grandes equipas. Trabalhei muitas vezes com o Christian Rätz, que é director da secção de cenografia do Teatro Nacional de Estrasburgo. E estamos, aliás, a trabalhar novamente juntos, desta vez em Almada.
– Que projecto é?
– Estou a montar “A Mosqueta”, de Ruzante, que deverá encerrar o Festival de Almada, a 18 de Julho.
– Mas isso é um autêntico regresso às origens…
– Absolutamente. O Joaquim Benite (director do Festival de Almada) pediu-me que fizesse uma “Mosqueta” exactamente como a que tinha feito em 1973, para preservar a memória daquele espectáculo que, na minha opinião, revolucionou o teatro português na altura. Tenho andado a pesquisar e a ver fotografias, para me lembrar de tudo.

– O que é que o Mário Barradas trazia nessa altura de Estrasburgo, que era tão novo e tão popular?
– As pessoas não estavam habituadas àquele tipo de linguagem. A linguagem teatral por um lado, mas sobretudo do próprio texto. Numa época em que era proibidíssimo, aquele espectáculo reinventava o obsceno, uma dimensão que a minha geração nunca tinha conhecido e que está na raiz do grande teatro popular. “A Mosqueta” foi um grande sucesso também no estrangeiro. Até num país chatíssimo como a Suiça, porque faz rir e tem também um lado muito amargo, que nós marcávamos bastante bem.
– Quando se estreou profissionalmente, no princípio dos anos 70, já tinha 40 anos. Como é que chegou à conclusão que queria fazer do teatro a sua vida?
– O meu primeiro contacto com o teatro foi ainda no liceu, em Ponta Delgada, onde havia um grupo de professores geniais com quem fizemos uma peça de Gil Vicente, teatro de boulevard e vários autores estrangeiros. Depois vim para Lisboa tirar o curso de direito, e achei que o teatro que se fazia em Portugal nessa altura não me convinha. Só me dediquei exclusivamente ao teatro quando fui para Estrasburgo, com uma bolsa da Gulbenkian.
– Mas sempre soube que teatro queria fazer?
– Sim, a mim interessava-me o teatro de grande qualidade, baseado nos grandes repertórios. E foi isso que fiz tanto em Timor como depois em Moçambique, onde em 1962 fundei o Teatro Amador de Lourenço Marques (TALM) com o José Caldeira. Foi aí que comecei a fazer teatro muito mais a sério, apesar de ainda exercer advocacia. Saía dos ensaios à meia-noite, ia para o escritório até às quatro da manhã preparar os processos para o tribunal… Em Moçambique fiz peças muito variadas, até Brecht, na altura da censura! Quando o senhor da censura veio ter comigo e disse “o Brecht é comunista”, eu respondi “não é nada comunista, nessa altura não era, isso eram peças para as crianças” (risos). “Para as crianças? Prove-me isso!”. E eu fui buscar o livro onde vinha a peça que eu queria fazer, que se chamava Pièces Didactiques (Peças didáticas). O homem olha para aquilo e diz: “ah, pois claro, isso é para as crianças”.
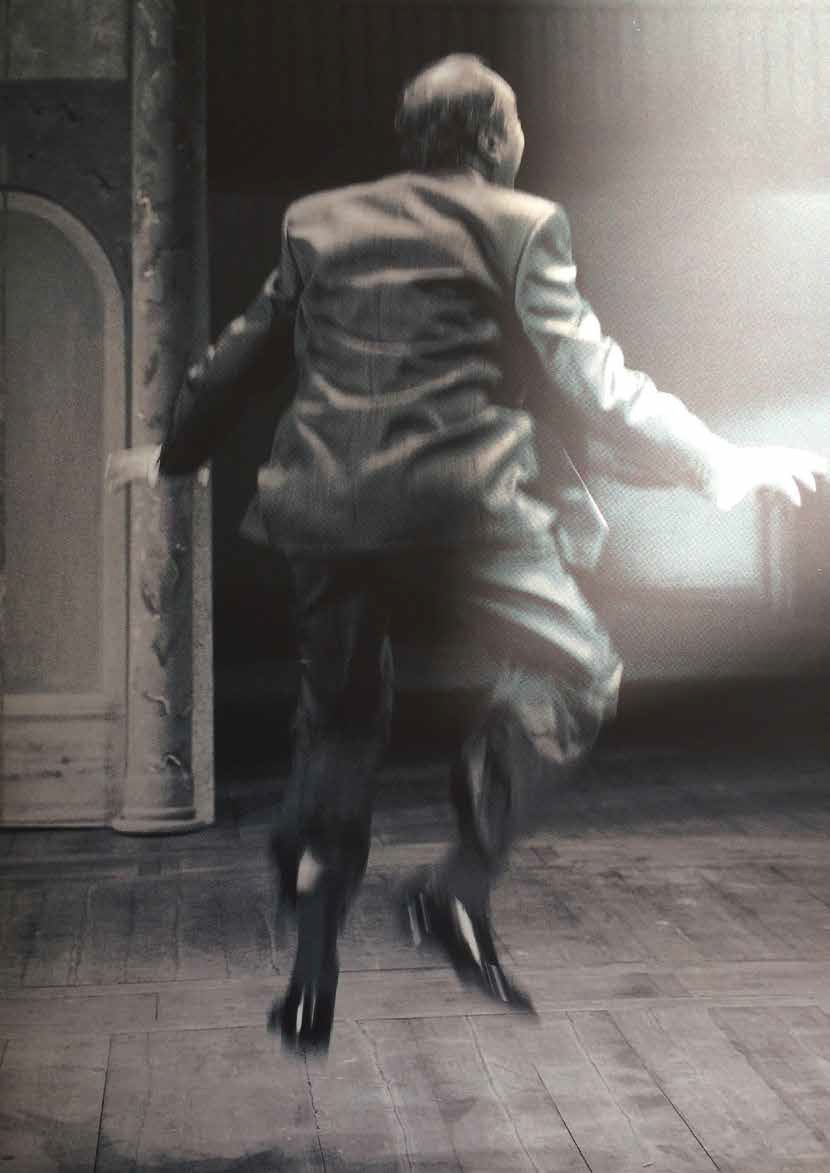
– Só que era mentira, ele já era comunista na altura…
Então não era, pá! (risos)
– O Mário Barradas é actor, encenador, pensador, também foi tradutor e exerceu cargos directivos. Em que papel ou função pensa ter deixado uma marca mais forte?
– Como actor e encenador. É isso que me dá mais gozo, sem dúvida. As outras funções eram para mim uma forma de trabalhar no sentido do desenvolvimento do teatro. Mas Portugal continua a ser um país muito atrasado, sobretudo no que toca às artes do espectáculo.
– Qual é para si a melhor ilustração desse atraso?
– Basta olhar à nossa volta. Veja, por exemplo, a programação do Teatro Nacional de há anos para cá. É uma verdadeira manta de retalhos, dependente das pessoas que o dirigiram. Agora começou uma nova gerência, na qual tenho muita esperança, mas vão começar por fazer “A menina Júlia” de Strindberg, que já foi feita vinte vezes em Portugal! Em toda a parte, de Braga a Faro. Ora, esse não é o papel de um Teatro Nacional.
– Qual é?
É a preservação da memória e da identidade cultural de um país. No entanto, também é verdade que eu tenho um grande diferendo com o teatro português. Deve ser culpa minha, mas acho que lhe falta alma, uma dinâmica própria, a força que faz os grandes autores. Coisa que não temos. Houve alguns, como o Raul Brandão ou o José Régio, que podiam ter sido grandes dramaturgos…Escreveram duas ou três peças, e o resto é romance ou poesia. Ora, o teatro é completamente ciumento. É a mais ciumenta das artes, porque não deixa espaço para mais nada.

– Acha que na literatura portuguesa contemporânea o teatro continua ser um género menor?
– Hoje em dia há o José Luís Peixoto, que escreve uma coisa para teatro de vez em quando, mas sobretudo romances. O Saramago escreveu umas peças, mas o forte dele são os romances, e é nisso que ele pensa. Nenhum deles viveu junto às tábuas, como o Goldoni, que convivia com as actrizes todas… (risos). O Shakespeare tinha uma companhia, e passava lá a vida. O Molière era o grande actor da sua companhia, até morreu em cena com um ataque cardíaco, na décima terceira representação do Malade Imaginaire. Começou com um ataque de tosse e o público ria a bandeiras despregadas, porque pensava que era da representação…
– Para o Mário, o teatro é uma alternativa à política? Uma maneira de perseguir objectivos e ideais políticos de outra forma?
– O teatro tem tudo a ver com a política, mas não é uma alternativa. Eu pertenço a uma corrente no teatro, o realismo, que é de natureza marxista. Coisa que várias pessoas não me perdoam, mas é assim! E também tenho uma actividade política muito determinada, que não é no teatro, mas no meu partido. Agora, que o teatro é uma realidade política, isso é indiscutível. Mesmo o teatro que se diz “apolítico”, ou “mítico”, no fundo é político. É de uma política de direita, que quer desviar a atenção das pessoas daquilo que são os seus reais problemas. Brecht sistematizou e deu corpo a todos esses aspectos do realismo, mas realistas já eram o Shakespeare e o Molière… Aliás, a pergunta foi formulada por Marx: “Porque é que a grande arte grega, produzida em condições sociais extremamente diferentes das nossas, continua a comover-nos hoje? Porque é que continua a dizer-nos respeito?”
– Porquê?
– Segundo os marxistas, é porque fala do homem e dos seus problemas essenciais. Sófocles não fala senão disso, Tchekhov não fala senão disso, o Shakespeare não é senão isso: fala do mundo inteiro, dos homens. No Henrique V, os tipos do povo estão lá todos, separados de uma certa arrogância da aristocracia. Há uma dimensão crítica na obra do Shakespeare que a torna imensa.

– Pode cumprir-se essa função social do teatro sem o apoio dos poderes públicos?
– Não, o teatro tem que ser financiado. Já em 1789, o Robespierre proclamou do alto da Convenção saída da Revolução Francesa que “o teatro é a escola primária dos homens esclarecidos. E constitui um suplemento à educação nacional”. Em Portugal não se sabe o que isso é.
– Foi perante essa constatação que em 1972/74 participou na reforma do Conservatório e em 1976 dirigiu o Instituto Português das Artes do Espectáculo, tentando mudar as coisas por dentro?
– Sim, eu ocupei alguns lugares oficiais que aceitei só por isso, mas enganei-me. Estava convencido que ia poder fazer coisas que não pude.
– Sente falta de reconhecimento, nomeadamente pelo trabalho desenvolvido em Évora?
– É evidente que sim.
– Isso deve-se às inimizades que foi criando?
– Inimizades criei em todas as esquinas. Houve foi falta de reconhecimento por parte do Estado.
– E sente falta de reconhecimento para consigo, pessoalmente?
Não, nem queria que me reconhecessem nada. Era sinal que me tinha vendido.