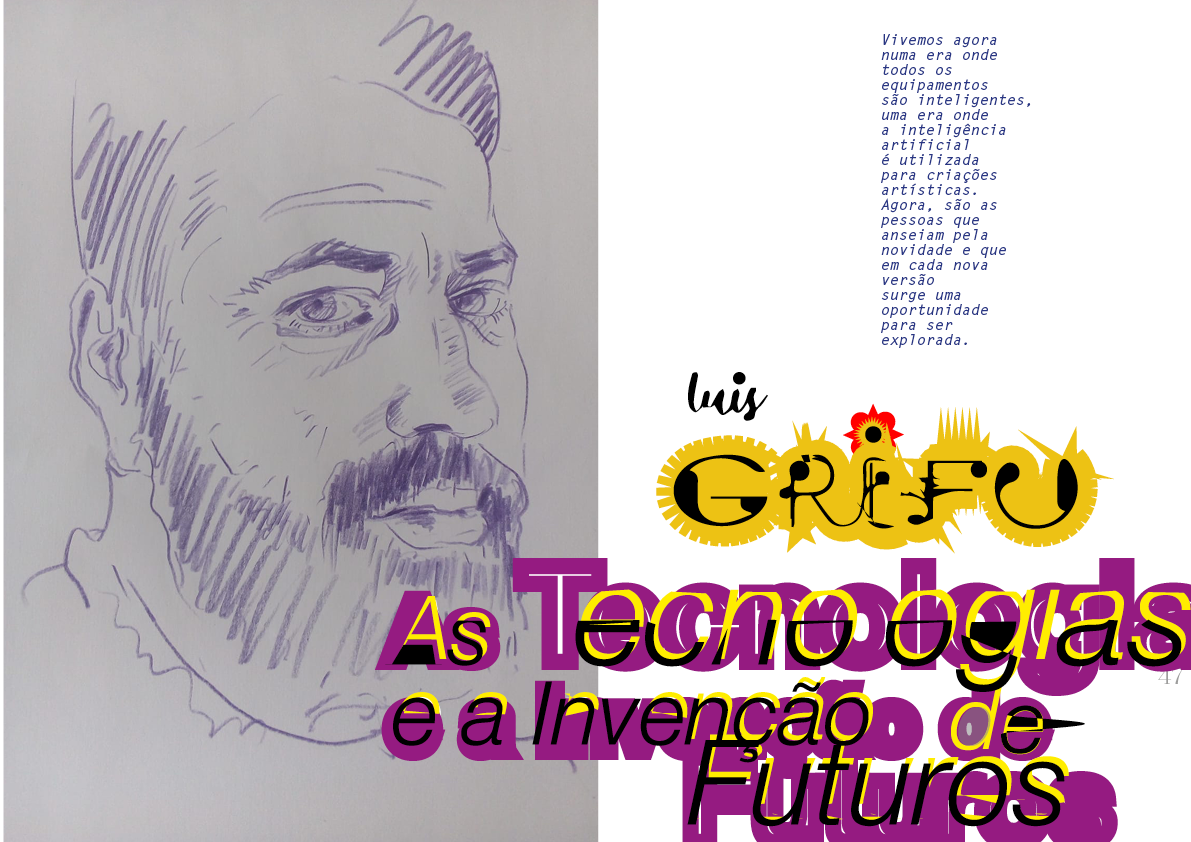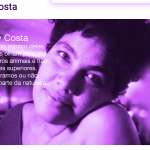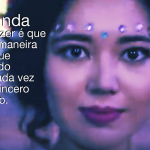Sílvia Melo Pfeifer: Nesta língua vejo valentia
Quando perguntámos à Sílvia Melo Pfeifer o que era ter duas línguas, ela respondeu que tinha que se manter à tona em cinco línguas diariamente. Se em casa tem duas línguas que tenta que se oiçam, e se vejam, por igual e como iguais, o mundo que está a construir não estaria completo sem os mundos que lhe trazem o amigo albanês, a cunhada croata, as amigas tunisina e italiana, os amiguinhos da escola dos miúdos de todas as partes do mundo.
Para Sílvia a base pode ser a Alemanha e Portugal, mas há um imenso tapete colorido que torna o olhar mais caleidoscópico e menos atomizado numa ou noutra nação. O modelo, para ela, não é binacional e bilingue, mas mais complexo e indeterminado.
LP – Sílvia o que vale esta língua?
SMP – Uma pergunta que só parece fácil. Tenho que pensar no que significa “valer” e o que significa “língua”, o que, por sua vez, talvez pareça ainda mais difícil. Para mim, “valer” não tem necessariamente que ver com o valor económico. Há estudos sobre o valor da língua portuguesa que passam muito por esta abordagem. Penso que é uma tendência imediata, uma armadilha das sinapses, ler “valer” e pensar “em valor”. Penso nos filósofos estantâneos da minha aldeia, daqueles que avaliam por outros padrões – como o atira-a-matar “não vales nada” – e fico logo muito mais próxima do significado que posso dar ao valor da língua: uma língua valente, com carga emocional. Entre “o valor” e “os valores”, fico-me por estes. Nesta língua vejo valentia, no sentido de força e de vigor: uma língua que continua a crescer, que não precisa de se colocar em bicos de pés para ser maior. Uma língua que, não obstante a forte concorrência, tem vigor científico e artístico, que se afirma em diferentes esferas públicas. E este entendimento leva-me ao conceito de “esta língua”… Eu gosto da diversidade que há nesta língua. Bem sei que não sou linguista e há muita discussão acerca de se falamos ou não todos a mesma língua… Eu imagino-me como falante de Português, gosto sempre de pensar mais nas aproximações do que nos afastamentos. Como se as aproximações fossem uma sinédoque para aproximar os falantes. Se eu digo que esta língua é valente e tem vigor, é porque identifico as produções dos falantes moçambicanos, angolanos, brasileiros e portugueses, para citar apenas alguns, como pertencentes à mesma língua. E aqui reside muito do vigor da língua: na sua vitalidade, na sua demografia e no seu dinamismo, nas suas diferenças que, eventualmente de forma paradoxal, a tornam… única. Quando me encontro com outros falantes de Português na Alemanha não pensamos nas nossas diferenças: pensamos no bom e confortável que é poder encontrarmo-nos numa língua na qual não tropeçamos, na qual a sintaxe não nos prega rasteiras e na qual temos a sensação de que tudo é límpido e transparente (a olho nu, pelo menos). Claro ainda que “o que vale” nesta língua é subjetivo: só posso falar do que esta língua vale para mim. Vale o esforço de lutar por ela todos os dias, quando se quer transmitir uma herança imaterial aos filhos.
LP – Olhar para a Europa a partir da Alemanha, e fazê-lo com um olhar em português, quais os desafios com que o nosso continente se confronta.
SMP – Se vivo na Alemanha (há 15 anos) e venho de Portugal, não consigo olhar para a Europa nem a partir só da Alemanha e nem só com um olhar em português. E ainda: eu venho de uma parte de Portugal: o Portugal em que eu cresci não me deu uma visão do que Portugal vê, como se Portugal fosse uma massa única. Cresci longe de ambientes académicos e políticos, cresci longe das pequenas e das grandes cidades. Vou, por isso, responder com o “meu” olhar português, de Fermentelos, filha de retornados. O nosso continente precisa de se ver menos como “nosso” continente e ver-se mais como continente que acolhe, que assume o facto de que muitos seres humanos vêem em si um sonho e um ideal, uma salvação para si e para os seus familiares. A Europa enfrenta o desafio de se assumir e de se concretizar como “sonho europeu”, inclusivamente para todos os europeus. A Europa enfrenta também o desafio de ser concreta e abstrata ao mesmo tempo, em que se procura a unidade, sem se perder as especificidades. A Europa enfrenta até, quem sabe, o problema da sua referencialidade: o que é a Europa? Vamos continuar a incluir o Reino Unido no nosso imaginário de Europa e de Continente Europeu? Vamos querer incluir a Turquia no nosso imaginário?

LP – A afirmação de Agostinho da Silva “Portugal deve entrar na Europa não para copiar o modelo aí dominante, mas para mostrar que há outros mundos e modos de estar que a podem ajudar a ultrapassar os seus problemas” tem algum sentido hoje?
SMP – Se tem! “Copiar o modelo dominante” parece remeter para um certo sentimento de inferioridade, de complexo de subalterno que nem Agostinho nem eu gostaríamos de atribuir a Portugal. Não vejo Portugal a copiar modelos (para o melhor e para o pior!). À queima-roupa poderia dizer que cada país da Europa tem mundos e modos de estar e essa potencial reciprocidade de olhares traz em si o poder de ultrapassar problemas. O que se pode aprender com Portugal: visto da Alemanha, o prazer das coisas simples, o poder da espontaneidade. E para mim: o que me faz estremecer, o rir às gargalhadas e falar alto só porque se está animado e não enraivecido. Nada me faz sentir mais estrangeira na Alemanha do que rir às gargalhadas, de mim própria, com o som no máximo. O espanto que isto pode causar (mais do que falar uma língua estrangeira!). Voltando ao tema: claro que Portugal também tem os seus problemas. Esses problemas têm algo em comum com os problemas da “Europa”: e coloco entre parêntesis porque dito assim, a Europa parece uma realidade abstrata e concreta ao mesmo tempo, como disse antes. Abstrata porque se pode dizer “Europa” sem se pensar num referente específico. O que dizemos, quando dizemos “Europa”? E concreta porque à força de não se questionar que há uma “Europa” (“uma” pondendo ser lida aqui como numeral cardinal, indicadora de unicidade e de tangibiliade, e como artigo indefinido, que implica um certo grau de indeterminação), acabamos a falar da Europa como se soubessemos o que Europa é, sem pensarmos na sua heterogeneidade constitutiva, na diversidade de Europas que são a Europa. Depois desde jogo gramatical e semântico, afinal quais são os problemas da Europa? Para mim, precisamente esse ser tão concreta e tão abstrata. Quando falamos da Europa concreta, “somos parte da Europa”, “estamos na Europa” e achamos que temos o mesmo valor simbólico; quando falamos numa Europa, não vemos as fronteiras e as desigualdades e apagamos a diversidade que constitui a união (uma união de desiguais – e desiguais aqui não tem nada de pejorativo). Penso que a afirmação de Agostinho remete para um “entrar” que não implica diluição de fronteiras, de culturas e de modos de ser e de estar, mas de afirmação de idiosincrasias que podem ajudar a resolver problemas comuns e específicos a todas as partes. Penso que falta, na afirmação, o outro lado do olhar: que entrar na Europa também pode mostrar que há outros mundos e modos de estar que podem ajudar Portugal a ultrapassar os seus problemas. Penso que nesta relação entre Portugal e a Europa, não se deve cair em paternalismos nem em relações de professor-aluno à moda antiga (leia-se reguadas e puxões de orelhas).
LP – Há quem diga que a Europa só será união efetiva quando a Geração Erasmus estiver no poder. Há efetivamente uma geração na Europa para quem o mais importante é a Comunidade Europeia e não o seu país? E faltará muito para que essa passagem de gerações aconteça?
SMP – Convém dizer que Geração Erasmus é uma generalização que não cobre toda a população nascida em determinada altura (ao contrário, por exemplo, dos Milenials). Falar de Geração Erasmus, por mais que pareça positivo, causa-me alguns problemas: primeiro, porque a designação está aplicada a meios académicos e, segundo, aos estudantes que tiveram a oportunidade de fazer ou de conviver com alunos Erasmus. Penso que é uma designação um pouco elitista, que não inclui todos os jovens, esses que por vários motivos não frequentaram a universidade e os outros que, tendo frequentado o Ensino Superior, não partiram pela Europa durante os seus estudos. Eu passei pela Universidade com pouca consciência do que era “Erasmus”. Quando quis partir, não tive meios económicos. Ou seja, para mim, consciência da importancia da Comunidade Europeia não passa necessariamente pela “Geração Erasmus”, mas pela consciência de que temos uma teia de relações educativas, políticas, geoestratégicas, económicas e históricas que nos aproximam e podem fazer parte do nosso horizonte de expectativas comuns. E finalmente, um nota mais pessismista: muitos jovens têm abraçado movimentos de extrema direita e movimentos identitários… porque não se identificam com o projeto Europeu (pan-europeu) e não querem abdicar do que, segundo eles, os torna eventualmente únicos nos seus países e na Europa. Penso que para muitos jovens, ser europeu é tão importante quanto ser de uma país específico, mas muitos não se identificam num discurso que amalgama identidades, especificidades e aspirações. E, sem saber ao certo, arrisco dizer que alguns desses jovens ou membros da dita “Geração Erasmus” podem estar a afastar-se do projeto Europeu. Seria interessante averiguar.
LP – Como é que é viver entre a Alemanha e Portugal, ter duas línguas, construir uma família que atravessa esses dois mundos? Essa será o modelo do futuro e a construção de gerações para a globalização?
SMP – Boa pergunta! Eu não tenho duas línguas. Tenho que me manter à tona em cinco línguas diariamente, por motivos sobretudo profissionais. Em casa, sim, temos duas línguas e tentamos que se oiçam e se vejam por igual e como iguais. Não gosto da metáfora “entre dois mundos”, como às vezes me tentam colocar, porque implica que esses mundos não se cruzam e que temos que passar de um para outro: em casa construímos um mundo que nasce da interceção da Alemanha e de Portugal, mas também de outros mundos que os amigos trazem. Penso que este mundo que construímos a partir de dois mundos não estaria completo sem os mundos que nos trazem (e aqui vou-me esquecer de muitos) o amigo albanês, a cunhada croata, as amigas tunisina e italiana, os amiguinhos da escola dos miúdos de todas as partes do mundo. Digamos que a base pode ser Alemanha e Portugal mas há um imenso tapete colorido que torna o olhar mais caleidoscópico e menos atomizado numa ou noutra nação. O modelo, para mim, não é binacional e bilingue, mas mais complexo e indeterminado.
LP – E o futuro? Quais os desafios a que vamos ter de responder e como o vamos fazer?
SMP – Vou cair nos lugares-comuns do costume: aquecimento global, extremismos de todos os tipos, (baseados no exacerbamento de algumas dimensões da identidade individual e coletiva em detrimento de outras), desinformação, desenraizamento e o “andar solitário entre a gente”. Tenho uma reação parecida a fobia quando me falam em “inteligência artificial” e na forma como tem ganho terreno. Mas fico-me pelo “andar solitário ente a gente”, pelo impacto psicológico: nunca se interagiu tanto e se comunicou tão pouco. Nunca tivemos tantos “friends”, “followers” e “likes” e nunca nos sentimos tão desacompanhados e à toa. Acho que este tipo de esquizofrenia social é um problema real. Tenho olhado para o confinamento e o distanciamento físico social como uma oportunidade para voltarmos a dar valor à expressão corporal dos afetos, ao contacto em presença, ao encontro.