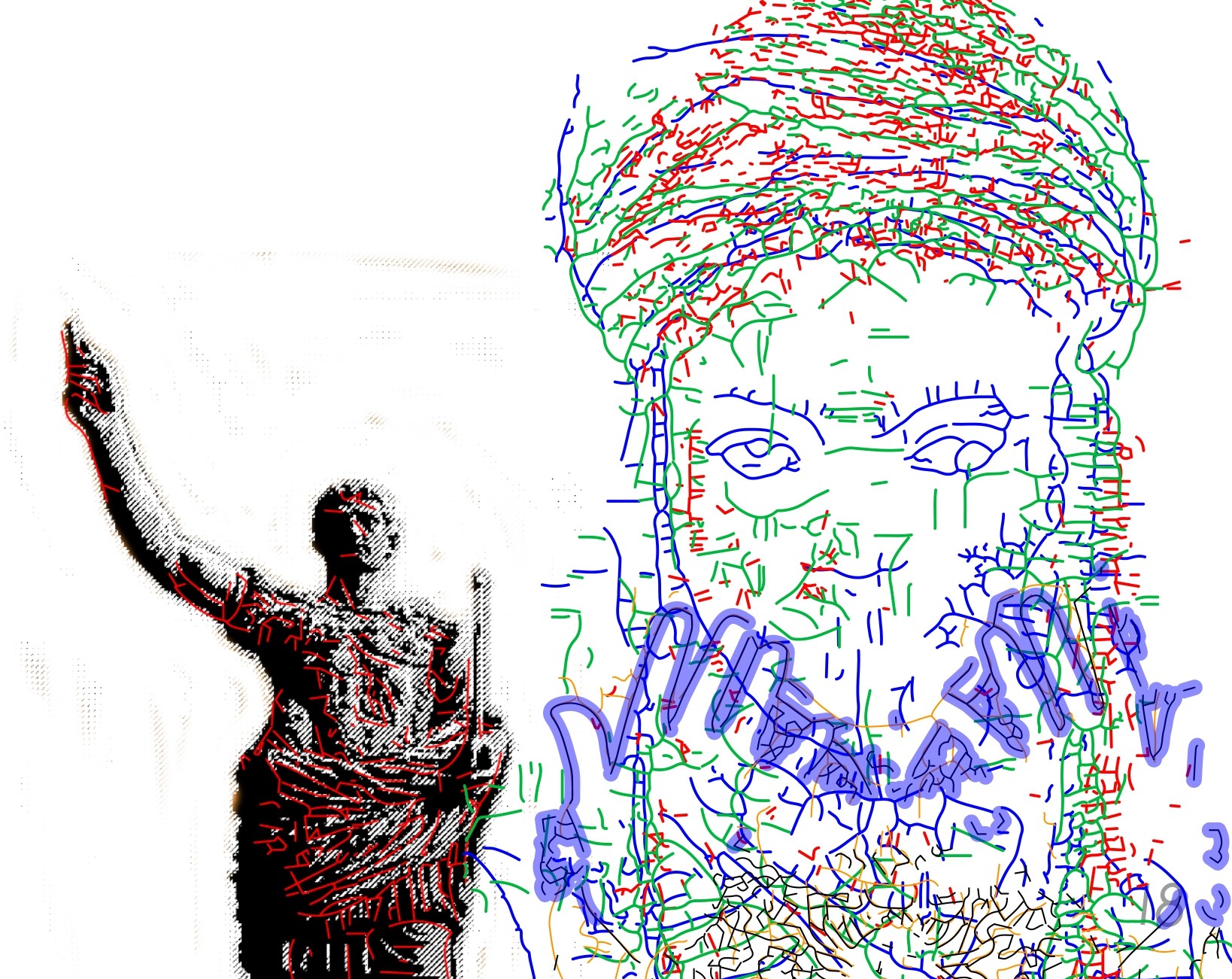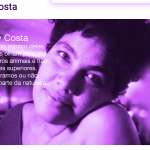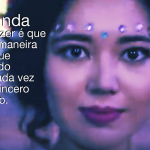Portugal e África – Um Encontro na História
A África Consigo Mesma
Na Europa, após a queda do Império Romano do Ocidente, seguiu-se uma história de cerca de cinco séculos de convulsões que, em grande medida, paralisaram o desenvolvimento do continente. Embora não tenha sido uma época de trevas, como a historiografia pensava até meados do século passado, as constantes migrações e invasões de povos mantiveram a Europa numa constante instabilidade. Só após os anos iniciais do século XI cessaram as últimas grandes invasões, as últimas e mais arrasadoras essencialmente vikings, que afectavam a economia e as sociedades europeias. Foi a partir de então que as nações europeias puderam começar a estabilizar as suas fronteiras e a desenvolver as suas economias e sociedades.
A mesma instabilidade viveu África, com amplas movimentações de povos, com invasões avassaladoras e com as economias e sociedades africanas impossibilitadas de adquirirem a estabilidade que lhes permitisse um desenvolvimento sustentado. A principal diferença em relação à Europa é que este processo se prolongou até muito mais tarde do que o século XI, continuou até bem dentro do século XIX.
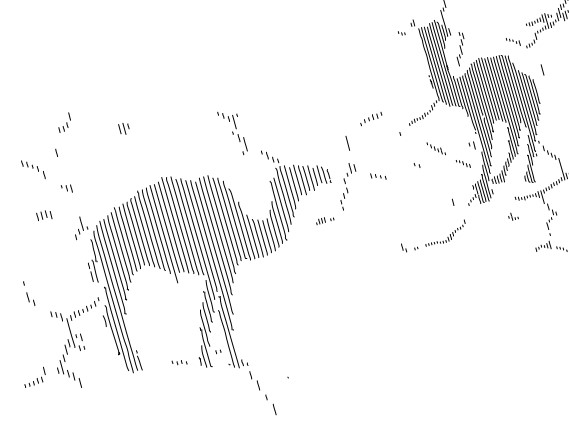
Lembremos que a civilização, conforme a conhecemos, começou no Oriente Médio e logo se estendeu para o Mediterrâneo e o Norte de África. Por milhares de anos o Egipto esteve na vanguarda civilizacional, sendo que quer o Império Grego quer (e principalmente) o Romano tiveram no Norte de África boa parte dos seus domínios e o essencial dos seus recursos agrícolas.
O Norte de África teve uma participação decisiva não apenas na economia, mas também na cultura destes Impérios, aos quais se sucederam o Bizantino e o Árabe, este prolongado até à Península Ibérica até aos finais do século XV, com a queda das grandes praças de Sevilha, Toledo, Córdoba e Granada, entre outras.
Nos tempos romanos o Sahara não separava o Norte e o Centro de África, tinha muito menor expressão, pelo que o Centro e o Sul do continente eram naturalmente integrados nas economias do Norte, via comércio marítimo e, principalmente, via caravanas, a exemplo do que sucedia no comércio entre a Europa e a Asia. Toda a extensa costa leste de África era muçulmana e integrada nos circuitos comerciais entre África, Ásia e o vasto Império Árabe, até ao início da colonização europeia.
Ao mesmo tempo, nas Áfricas Ocidental, Central e do Sul grandes estados e impérios se formaram, via unificação de tribos e clãs sob um só soberano, com sistemas de organização económica e social em tudo semelhantes ao feudalismo europeu. De entre estes destacamos o Axum na actual Etiópia, com o seu auge no século XIII; o do Gana, entre os séculos V e XI; o do Mali, dos séculos XIII ao XV, este já muçulmano; o de Songai, nos séculos XV e XVI, também muçulmano; o do Benin, ainda muçulmano, no século XVII; e a Confederação Zulu, no sudoeste africano, no século XIX. Entretanto constituíram-se outros reinos das mais diversas dimensões, e entre os maiores destacaram-se os do Congo e o de Luba que ocupavam os territórios hoje correspondentes aos Congos, a Angola e à região dos grandes lagos.

As maiores migrações internas que África viveu foram as dos povos Bantus, que duraram cerca de 3.000 anos, dirigidas de norte para sul e para leste, e que disseminaram as línguas bantus por practicamente toda a África a sul do Sahara. À medida em que avançavam iam-se cruzando com os povos que encontravam, que viviam da agricultura e da pecuária, tal como os povos europeus da época. Conheciam a tecnologia do ferro e foi este avanço tecnológico que lhes permitiu serem tão em sucedidos na sua expansão. O historiador Ian Morris explica bem a importância das descobertas tecnológicas nas estratégias de conquista.
Muitos dos povos angolanos têm origem Bantu, chegados ao seu actual território em diversos períodos históricos, como os Nganguela, os Ovambo e os Xindonga, a partir do século XVII, e ainda os Nhanecas, os Herero e os Jagas, já no século XVI. Os últimos povos chegaram já no século XIX, os Cuangares ou Macocolos.
Quanto a Moçambique, os Bantu chegaram entre os séculos I e IV, ocupando todo o território. Entre os séculos IX e XIII chegaram a Moçambique migrantes oriundos do Golfo Pérsico, em busca de ouro, ferro e outros metais, em troca de tecidos oriundos da Índia. A partir do século XV constituiu-se o Império dos Mwenemutapas, que abrangeu, a partir de quinhentos, parte do actual Moçambique.
Outros Encontros
Foram múltiplos os encontros entre os povos de África e os oriundos de outras regiões e de outras culturas não africanas. Vimos já que a primeira grande civilização africana foi a egípcia, que bebeu muitos dos seus saberes e tecnologias das civilizações de entre os rios Tigre e Eufrates, mas também da actual Turquia e Palestina, e se estendeu para sul e sudoeste, até às actuais Etópia e Sudão. Mais tarde os Gregos e os Romanos ocuparam ambas as margens do Mediterrâneo, com estes a incluírem todo o sul mediterrânico, até ao actual Marrocos, no seu Império e no seu sistema económico e social.
O Século VII presencia o súbito aparecimento do Império Árabe, depressa dividido em numerosos sultanatos independentes, mas com uma só civilização e religião, que se espraia, a partir do norte de África, por todo o leste africano, até ao sul do actual Moçambique e até vastas áreas do interior de África, a partir do norte, com apoio nas caravanas trans saháricas e do comércio. Deve ter-se em conta que esta penetração muçulmana nem sempre foi pacífica já que, para além do ouro e outros metais, os árabes procuravam escravos. Nalgumas épocas mais tardias, segundo Amin Malouf, o número de escravos anuais transportados via navios no Índico ou caravanas no deserto, ultrapassou muito largamente o número de escravos levados pelos europeus via Atlântico.
Vimos já, também, que a partir do século IX, outros povos oriundos do golfo pérsico chegaram a África, na costa leste, com os mesmos intuitos comerciais que os árabes, sendo que, já no século XIX e, ainda mais, no XX, começaram, também, a chegar ao sul da África, indianos e paquistaneses, que se integraram em maior ou menor número nas sociedades africanas.
O Encontro com a Europa
Após a queda do Império Romano a Europa retraiu-se nas suas relações com África: voltou-se para dentro de si mesma e, pouco a pouco, deslocou o seu centro de desenvolvimento para o Báltico. A partir do século VII o Mediterrânio tornou-se num domínio essencialmente Árabe, depois muçulmano com a dissolução do Império Árabe em numerosos sultanatos, dos quais o mais importante e mais poderoso foi o Turco, por muitos séculos. O Mediterrânio começou a ser, de novo, navegado pelos europeus através das repúblicas italianas, como Génova, Veneza e outras, mais tarde com a presença dos diversos reinos espanhóis, sendo que o Sahara se tornou então num obstáculo intransponível para os europeus.
Entretanto, após a conquista do Algarve, Portugal viu-se perante um problema estratégico muito exigente: o território peninsular era por demais pobre e exíguo, colocando o novel reino numa posição de fraqueza perigosa perante a poderosa Castela. Para além de que Castela nunca perdoou a Portugal a conquista do Algarve, que esperava lhe caísse em mãos com o tempo, com os seus portos e o seu litoral, que prolongava as terras de Espanha até ao Atlântico.
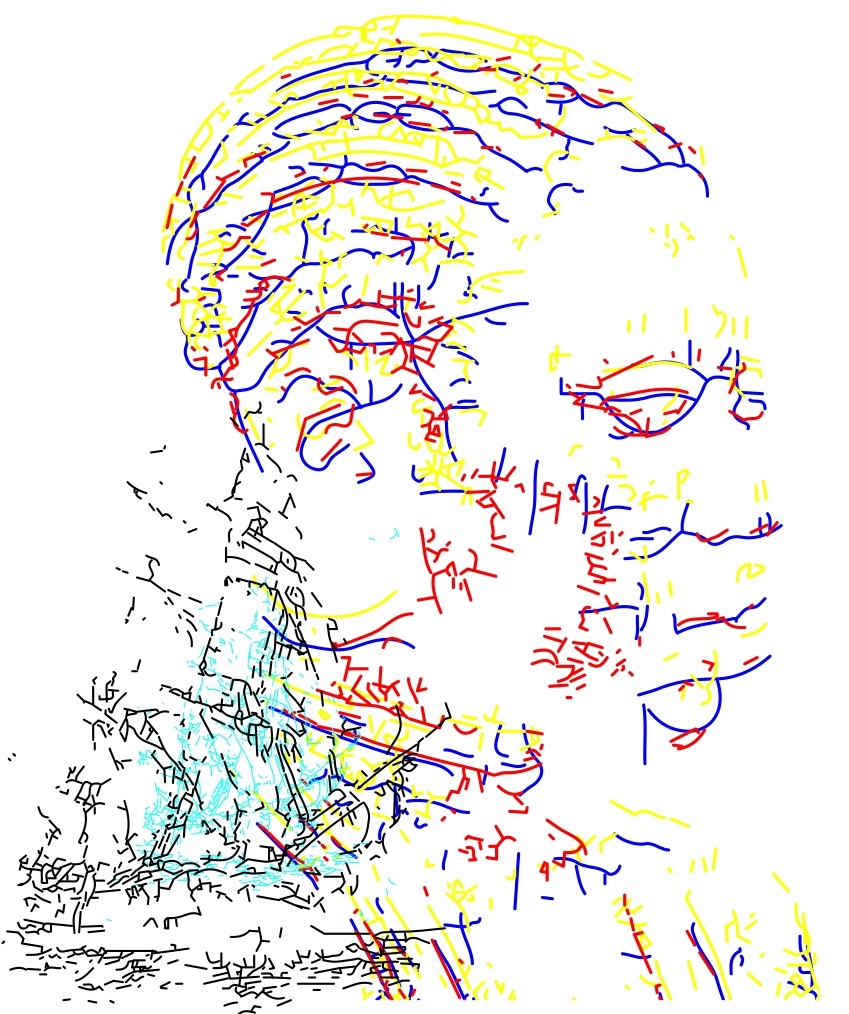 Por outro lado, o comércio com as índias, ou seja, com o Oriente, era dominado pelos árabes e os turcos, que controlavam os percursos terrestres e os portos no Mediterrânio e no Índico. A saída era arriscada, mas a única visível: contornar África. E foi esta a saída que o reino de Portugal escolheu.
Por outro lado, o comércio com as índias, ou seja, com o Oriente, era dominado pelos árabes e os turcos, que controlavam os percursos terrestres e os portos no Mediterrânio e no Índico. A saída era arriscada, mas a única visível: contornar África. E foi esta a saída que o reino de Portugal escolheu.
A conquista de Ceuta foi um teste importante, embora economicamente tenha sido um fiasco, pois os árabes simplesmente desviaram o entreposto comercial para outras praças. Mas mostrou que as técnicas de navegação oceânicas eram eficazes, e o percurso de descoberta da costa ocidental de África prosseguiu. Com escassos recursos, tal desafio foi, em boa parte do tempo, contratado a empresas particulares, a troco de descobertas de percursos mínimos da costa africana, cabendo aos contratantes os lucros daí resultantes.
O incidente chave foi a chegada ao reino do Congo, um vasto Império africano, bem cimentado e militarmente forte. O reino de Portugal compreendeu que não tinha arcaboiço militar para se bater com ele, daí a estratégia ter sido ajustada para o primado da diplomacia e do comércio. Em boa hora, pois facultou a Portugal uma melhor gestão dos seus muito escassos recursos humanos e materiais.
As diversas etapas da aventura das descobertas até à Índia e ao Brasil são conhecidas, e a estratégia não se alterou muito até à perda da independência perante Filipe II de Espanha. Foi a construção de feitorias com escassa provisão de tropas e o controlo de portos chave, embora com alguns insucessos, principalmente a norte da costa oriental de África. O Império foi de controlo das rotas comerciais, marítimo em substância, com escassíssima presença em terra: pouco mais do que Goa e um escasso território em volta desta cidade.
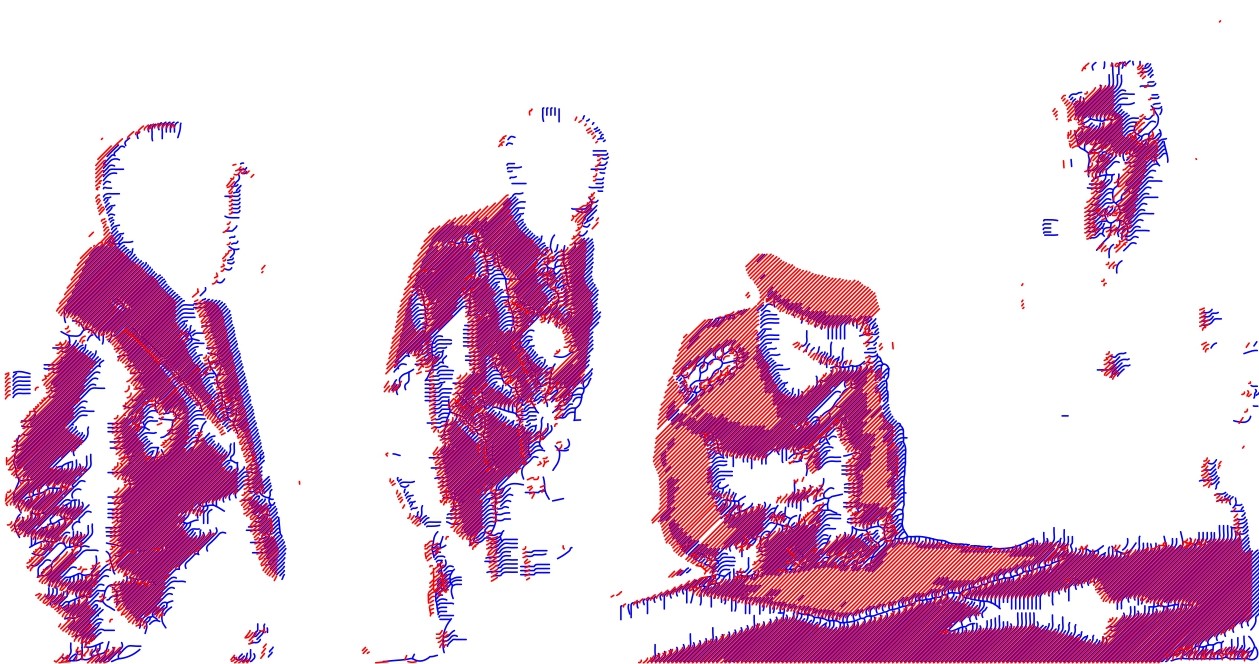
A nossa estratégia teve uma outra componente essencial, o monopólio da coroa, quer em relação aos domínios estabelecidos quer em relação ao comércio. Foi oposta a estratégia dos nossos concorrentes do norte da Europa: a Holanda e a Inglaterra optaram pela constituição de companhias privadas para a exploração das terras (e não só portos e rotas comerciais), com o direito a constituírem exércitos e marinhas privadas e poder jurisdicional sobre as conquistas feitas, com pagamento de impostos às respectivas coroas, para além de com essas monarquias ficar o controlo político.
Com a perda da independência portuguesa, o nosso Império ficou a saque, e os holandeses e os ingleses apoderaram-se de grande parte dele, sendo que só parte do africano e o brasileiro foi recuperado, após a restauração da independência. E assim foi que, a partir, essencialmente, do século XVII, partes crescentes de África passaram ao domínio das potências europeias.
A África Connosco
As primeiras trocas comerciais entre Portugal e África baseavam-se, no essencial, na busca de ouro em troca de tecidos e produtos de luxo, na óptica africana. Todavia, a partir de 1 462, teve início a colonização de Cabo Verde, com o cultivo de cana de açúcar e de algodão, para o que se fazia necessária mão de obra de que Portugal não dispunha, ao menos nas condições de viabilização daquela exploração. Começou, então, o comércio de escravos da costa da Guiné para Cabo Verde. Já em finais dos anos de mil e setecentos, a criação de grandes fazendas de cana no Brasil, e dada a mortandade dos índios brasileiros com as doenças europeias para as quais não tinham defesas naturais, desenvolveu-se o comércio de escravos a partir da costa angolana.
Vimos que os portugueses não tinham capacidade militar para ocupar o território ou para se oporem às grandes potências africanas. Deste modo, o comércio de escravos construiu-se com base na compra dos mesmos às próprias potências africanas, que se guerreavam entre si e capturavam as populações das nações ou tribos mais fracas para vender aos portugueses, nas feitorias junto à costa. Com o passar das décadas, este comércio conduziu à dissolução das sociedades africanas, que foram perdendo a capacidade de se oporem às potências europeias. No caso português, isso traduziu-se na ocupação de alguns territórios litorâneos, nomeadamente em Angola, e na criação de algumas cidades, como foi o caso de Luanda.
Só já no século XIX é que as potências europeias se preocuparam com a ocupação dos territórios do interior de África, no que Portugal não foi excepção, antes pelo contrário, pois só no final do século XIX é que expedições portuguesas percorreram o interior dos territórios de Angola e Moçambique, com a ocupação definitiva relegada, em algumas regiões só para os inícios do século XX.
Um dos motivos do atraso na ocupação do interior das duas grandes nações africanas lusófonas foi a feroz resistência das populações locais nalgumas regiões dessas nações, nalguns casos com essa resistência a demorar décadas.
Um exemplo foi o Reino de Gaza, fundado em 1 821, pelo povo Nguni, que controlou uma parte significativa do actual território de Moçambique e que só foi derrotado em 1 895, quando era governado pelo rei Gungunhana, aprisionado nesse ano. Outro exemplo ocorreu em Angola, com as guerras entre as forças portuguesas e os povos Ovimbundos, no ´seculo XIX, onde estes foram representados principalmente pelos reinos Bailundo, Huambo e Bié. O Império Português foi motivado pelo controle das rotas comerciais e pelo súbito declínio do preço da borracha. Portugal venceu e subjugou estes povos, restando somente um último bastião de resistência no reino Cuanhama, que foi subjugado na Campanha de Cubango-Cunene.
Com a pacificação alcançada entre finais do século XIX e os inícios do século XX, a exploração do interior das colónias africanas pode instalar-se. Apesar da abolição formal da escravatura, em 1 842, a escravatura clandestina continuou por muito tempo, sem grande oposição do estado, mesmo após a implantação da república. Tanto em Moçambique como em Angola, a exploração do território foi, em grande parte, concedida a companhias privadas, como as Companhias do Niassa e de Moçambique, com liberdade para estabelecer e cobrar impostos. Uma das soluções foi o imposto de palhota, em Moçambique, que as famílias eram obrigadas a pagar em dinheiro, que não tinham, ou em trabalho. Já em Angola, o imposto era individual, para todos os maiores de 16 anos, sendo que era obrigatório que parte fosse pago com trabalho.
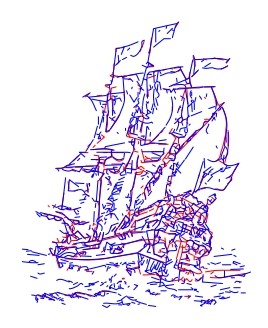
A exploração de produtos para exportação, como a cana, o sial, o algodão, o café, o chá e o milho, exigia espaço e mão de obra. As terras usadas desde sempre pelos povos africanos para o seu sustento eram muitas vezes ocupadas pelas grandes companhias sob os mais diversos pretextos legais e as populações eram obrigadas a trabalhar nessas explorações em condições inaceitáveis. Qualquer resistência era objecto da mais violenta repressão, como ocorreu com massacres conhecidos em São Tomé.
A África Independente
A partir de 1 961 as guerras de independência nas ex-colónias portuguesas de África tiveram início. O fim da segunda grande guerra, com a concessão da independência às colónias das potências europeias num muito curto espaço de tempo, e de forma pacífica com raras excepções, como nos casos da Argélia e do Vietnam, deixaram Portugal numa situação extremamente difícil.
A situação estratégica do século XV, de certo modo, repetia-se. Enquanto que as demais potências europeias tinham, de alguma maneira, atingido um grau de desenvolvimento que lhes permitia continuar a beneficiar das suas ligações privilegiadas às antigas colónias através dos normais fluxos comerciais e das dependências tecnológicas, de controlo dos mercados, dos controlos financeiros e das ligações políticas, a economia portuguesa estava num grau de desenvolvimento de tal modo inferior que a eventual independência das suas colónias africanas poderia levar a um desastre sem precedentes para os grupos económicos portugueses que as exploravam.
Nas estratégias internacionais o que conta são os interesses, as ideologias servem para lhes dar cobertura: as justificações ideológicas do salazarismo eram um triste disfarce para a impotência económica. Por isso, a ordem era “para Angola e em força”, porque não havia outra saída.
Mudou-se o quadro legal, as colónias mudaram o nome para províncias ultramarinas, mas o que alguém chamou de ultra colonialismo não se alterou. As condições de trabalho impostas aos africanos eram brutais, a repressão violenta e o racismo era a cobertura ideológica que justificava a sobre exploração do africano.

Os levantamentos armados sucederam-se onde eram viáveis: nos três países africanos onde fronteiras com estados independentes ofereciam retaguardas viáveis para a guerra de guerrilha. Numa fase inicial o controlo político das frentes guerrilheiras era escasso, a breve trecho organizou-se segundo as linhas de fractura ideológicas internacionais e segundo as fracturas “tribais” internas. Os três países, a exemplo da generalidade dos demais países africanos, tinham as fronteiras traçadas segundo os interesses das potências coloniais, e não segundo as realidades históricas e nacionais. Carlos Lopes, o intelectual guineense, comenta que as lideranças africanas acreditavam que era a partir destas fronteiras artificiais que era necessário partir para o desenvolvimento, pois a alternativa seria o caos. Em boa medida foi o caos assim mesmo, pois a unidade nacional não existia à partida.
As divisões dos movimentos africanos só em parte foram superadas: na Guiné subsistiu um só partido, mas em Moçambique e em Angola, mais neste do que naquele, as divisões dos movimentos de libertação foram incontornáveis e marcaram o destino das jovens nações.
As guerras são todas iguais: mortandades, bombardeamentos, destruição de aldeias e das suas populações, assassínios de todos os que as tropas encontravam no mato, torturas, vinganças, muito sangue. Em Portugal os recursos humanos escasseavam cada vez mais, via emigração e redução brutal das candidaturas à Academia Militar. As comissões de serviço sucediam-se, com a deterioração dos laços familiares dos oficiais do quadro permanente, enquanto que os oficiais milicianos rompiam com a disciplina ideológica e, principalmente, militar. O regime não tinha uma saída viável para a crise que se avolumava e o golpe era inevitável. Foi inevitável.
Com a ruptura política e constitucional as independências eram também inevitáveis: Portugal tinha de mudar de estratégia, inserir-se na Europa das nações e reposicionar-se no sistema económico internacional. E as jovens nações africanas tinham de encontrar o seu caminho.
Caminhos Futuros
As independências (Timor foi a excepção, com a ocupação Indonésia) criaram as melhores expectativas nos diversos povos da África ex-portuguesa, mas a alegria não durou muito nos três países continentais. Em Angola e Moçambique seguiu-se a guerra civil com o seu cortejo de morte e destruição, na Guiné o PAIGC entrou em ruptura e o plano de união com Cabo Verde inviabilizou-se. Mas tanto em Cabo Verde como em São Tomé e Príncipe houve paz e os dois países, de acordo com as suas circunstâncias, souberam encontrar o seu caminho.
Os colonos ou foram expulsos ou fugiram, e as consequências foram duplamente trágicas: para os ex-colonos, porque perderam tudo o que construíram nas suas vidas; e para os países, principalmente Moçambique e Angola, porque as economias, sem a mão de obra qualificada e sem o capital e o conhecimento das tecnologias e dos mercados, colapsaram, com milhares de empresas a encerrarem, as enormes perdas de produção e o desemprego. Encontrar um novo caminho foi muito difícil, principalmente após o colapso do mundo soviético. A integração nos mercados mundiais, em condições de falta de capital, falta de quadros, falta de know how em inúmeras áreas e falta de conhecimento dos mercados, revelou-se extremamente difícil. Os índices de desenvolvimento económico e social em todas as ex-colónias portuguesas em África continuam muito baixos, e são particularmente difíceis em Moçambique e na Guiné.
A base produtiva só pode ser a Agricultura (vide Carlos Lopes): na medida em que atinja níveis razoáveis de produtividade, passará a haver excedentes que permitirão não apenas oferecer condições de vida melhores às populações, como permitirão o investimento na indústria e nos serviços, nomeadamente na exploração industrial das matérias primas locais.
Uma das mais formidáveis dificuldades enfrentadas pelos jovens países lusófonos reside no facto de que, como vimos já acima, as actuais fronteiras não têm qualquer relação nem com a história desses países nem com as nações que os constituem. Para além das rivalidades e mundivivências diferentes, os diversos grupos nacionais têm línguas muito distintas entre si e memórias históricas associadas a profundas rivalidades e conflitos.
Rapidamente se tornou evidente para os líderes desses países que o primeiro passo para a sua viabilização enquanto entidades políticas era a adopção de uma língua comum. E a língua disponível era a língua do ex-colonizador, com tripla vantagem: facilitar a comunicação entre todas as comunidades nacionais desses países; ser a língua em que se formaram a generalidade das suas elites e, assim, de disseminação mais fácil do que qualquer outra; e o facto nada despiciendo de que Portugal, ao contrário das demais potências europeias ex-colonizadoras de África, era demasiado pequeno, pouco povoado, pouco desenvolvido e militarmente frágil para poder pretender impor às suas ex-colónias um qualquer arremedo de neocolonialismo. Essa a razão porque as relações entre Portugal e as suas ex-colónias rapidamente se estabilizaram num sistema de solidariedade e cooperação que, pese as limitações de meios, se revelou satisfatório para todas as partes.
A língua portuguesa, do Brasil a Timor Leste, tornou-se a língua de uma comunidade de povos com uma história plena de episódios tremendamente dolorosos, mas que puderam reencontra-se numa relação de equilíbrio, respeito mútuo e igualdade.
A realidade Brasileira difere por demais da dos países africanos lusófonos, e Timor Leste fica do outro lado do mundo. Mas os outros cinco países lusófonos, precisamente os africanos que encontraram a sua independência logo após o 25 de Abril, na sua enorme diversidade têm desafios semelhantes.
O desenvolvimento económico e social de todos eles é escasso, a pobreza é dominante e as condições de partida são muito difíceis: falta de quadros, falta de instituições educacionais sólidas (embora bastante melhores em Angola), instituições pouco compatíveis com economias modernas (vide Acemoglu e Robinson), debilidades tecnologias generalizadas, investimentos muito escassos, corrupção generalizada e uma agricultura de muito baixa produtividade, com vastas extensões territoriais votadas ao abandono ou muito perto disso.
Sabe-se quanto é difícil estabilizar democracias quando o desenvolvimento económico é tão escasso. Mas os caminhos desse mesmo desenvolvimento, quando o principal objectivo só pode ser oferecer condições de vida condignas às populações, nas suas grandes linhas já são conhecidas. Carlos Lopes, o ilustre alto quadro e académico guineense, mostra-o com clareza no seu último livro. Há que construir instituições estáveis e modernas; há que dar o primado ao direito, pois sem credibilidade nos contratos não há investimento; há que investir em tecnologias e know how agrícola; há que investir na criação de circuitos comercias que permitam aos agricultores venderem os sues excedentes em condições satisfatórias; há que investir em capacidade de armazenamento; há que investir em indústrias transformadoras para os recursos mineiros e agrícolas dos países; há que investir, para que tudo isto seja viável, em educação, a todos os níveis. E na educação, a generalização do uso da língua portuguesa é de importância vital.
AUTOR DO ARTIGO
LUÍS JORGE MONTEVERDE